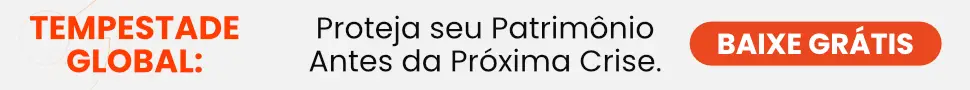São três da manhã de um sábado, 3 de janeiro. O silêncio da madrugada caribenha é rasgado pelo som grave e rítmico dos rotores.
Quem olha pela janela, vê as luzes táticas varrendo o perímetro de uma residência que, até poucas horas atrás, era considerada uma fortaleza impenetrável. A movimentação é rápida, cirúrgica e desenhada para não dar chance de reação.
Em questão de minutos, o impossível se materializa: o homem que controlou o destino de uma nação com punho de ferro aparece algemado, caminhando sob a mira de fuzis em direção ao helicóptero que o levaria para uma cela em Nova York.
Foi um desfecho cinematográfico. As imagens rodaram o mundo instantaneamente.
Não há como negar a magnitude do feito.
Do ponto de vista estritamente militar e logístico, a operação foi uma vitória incontestável. Uma demonstração de capacidade tática e coordenação que impressionou até os críticos mais céticos e que certamente será estudada em academias militares por décadas.
Nas horas seguintes, o planeta se dividiu. De um lado, festas nas ruas e fogos de artifício. Do outro, debates acalorados sobre soberania e legalidade internacional.
Eu não estou aqui para fazer previsões sobre o futuro político de Caracas.
Se o regime vai desmoronar amanhã ou se vai se reinventar sob nova direção, isso é um xadrez complexo que deixo para os especialistas em relações internacionais e geopolítica.
Mas eu preciso ser a voz dissonante.
A vitória militar de uma madrugada não reverte a derrota econômica de uma vida inteira. O ditador saiu de cena, mas os escombros financeiros que ele deixou para trás continuam lá.
A Venezuela não quebrou no dia em que os militares americanos levaram o ditador. A destruição que vimos foi uma erosão lenta, dolorosa e, para quem tinha patrimônio lá, irreversível.
Para entender o tamanho do buraco, precisamos olhar para trás.
Até meados da década de 70, a Venezuela ostentava orgulhosamente a maior renda per capita da América Latina.
Era um ímã de investimentos, um país que olhava de igual para igual com as potências europeias em termos de riqueza por habitante.
O paradoxo atual é ainda mais cruel. Estamos falando de uma nação sentada sobre 303 bilhões de barris de petróleo comprovados. Isso representa cerca de 18% de todas as reservas globais — mais do que a Arábia Saudita.
Sob qualquer métrica racional, a Venezuela deveria ser os Emirados Árabes da América do Sul, garantindo um padrão de vida escandinavo no Caribe.
Ao invés disso, o que vimos foi uma máquina de moer capital.
A produção de petróleo, que já ultrapassou os 3,5 milhões de barris por dia no seu auge, despencou vertiginosamente ano após ano, fruto de sucateamento e má gestão, chegando a patamares inferiores a 1 milhão de barris.
O dinheiro que deveria jorrar do solo secou, mas a impressora de dinheiro do governo continuou ligada.
O resultado não foi apenas números vermelhos em uma planilha; foi o colapso de uma sociedade.
Uma inflação de seis dígitos não destruiu apenas a moeda; ela dissolveu a dignidade. O resultado foi o maior êxodo da história recente do hemisfério ocidental.
Cerca de 8 milhões de venezuelanos abandonaram suas casas nas últimas décadas. Não por escolha, mas por pura sobrevivência.
Estamos falando de médicos virando motoristas de aplicativo em Lima.
Engenheiros lavando pratos em Madrid. Famílias inteiras, com idosos e crianças de colo, atravessando a pé a inóspita selva de Darién, enfrentando lama, cartéis e a morte, simplesmente porque a economia do seu país de origem se tornou uma sentença de condenação.
Eles fugiram da miséria gerada em cima de um oceano de ouro negro.
A grande armadilha para quem tinha recursos foi a esperança.
É evidente que a maioria da população não saiu por absoluta falta de condições financeiras. Mas estou falando aqui de quem tinha escolha.
Muitos empresários e chefes de família, que poderiam ter se protegido, acreditaram que essa irracionalidade econômica não poderia durar para sempre. Apostaram que o regime cairia “no próximo mês” ou “no próximo ano”.
E, enquanto esperavam a política mudar, mantiveram seu patrimônio exposto ao risco local, totalmente concentrado em uma moeda que virava pó a cada amanhecer.
O dinheiro que evaporou com a hiperinflação não reaparece magicamente na conta bancária quando o ditador é fichado em Nova York.
O tempo que se perdeu esperando a normalidade voltar é um ativo que nenhum juiz americano consegue restituir. As empresas que fecharam não reabrem sozinhas só porque a manchete do jornal mudou.
A economia não espera a justiça ser feita para cobrar o seu preço.
Eu escrevo isso observando a movimentação aqui na Flórida. Existe um abismo entre o venezuelano que internacionalizou seu patrimônio há dez anos e aquele que ficou “all-in” no risco local até o fim.
O primeiro assistiu às notícias do dia 3 de janeiro com a tranquilidade de quem protegeu o futuro dos filhos em moeda forte. O segundo assistiu com esperança cívica, mas com o bolso vazio.
Essa é a lição que eu quero deixar para você hoje. Internacionalizar não é apostar contra o seu país.
É um ato de responsabilidade financeira extrema. É reconhecer que eventos políticos são imprevisíveis, polêmicos e demorados, mas o seu dinheiro não tem esse tempo para esperar.
Você não pode condicionar a segurança de tudo que você construiu à sorte de um cenário político favorável, seja no Brasil ou em qualquer lugar.
Cisnes negros acontecem. Operações militares na calada da noite acontecem.
Colapsos cambiais acontecem. E quando eles acontecem, a única coisa que importa é se o seu suor está armazenado em uma jurisdição que respeita a propriedade privada e a moeda forte.
A captura de Maduro já é passado. A manchete de hoje já é outra. Mas a necessidade de proteger o seu capital continua urgente.
A euforia política passa rápido, mas os danos ao patrimônio ficam para sempre. Proteja o que você construiu antes que vire notícia.
Um abraço,
Daniel Fogaça
Esse conteúdo foi útil pra você? Clique aqui para deixar seu feedback.